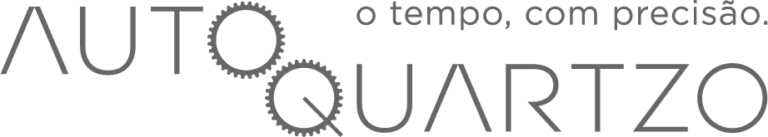Deitada no chão, por horas infindáveis, Ana Aragão (Porto, 1984) desenha, à grande escala, mundos futuristas inatingíveis e mágicos. Todos verticais e levitantes, em total oposição à horizontalidade que o seu corpo assume quando trabalha a obra. A cada traço, a obsessão do pormenor. O gesto ritmado a tentar desconstruir densidades. Um desejo, talvez subconsciente, de um mundo terreno mais liberto, simplificado.
Exclusivo na edição impressa | Com atelier no Porto desde 2012, a arquiteta reinventada como desenhadora explora imaginários urbanos que evocam narrativas de paisagens impossíveis. Já levou desenhos seus à Bienal de Veneza, e está representada nas coleções do Centro Cultural de Belém, da Fundação Oriente Macau e da Fundação do Oriente Portugal. Em 2014, foi selecionada pela revista Lüerzer’s Archive como uma das «200 Best Illustrators Worldwide». Determinada a inverter as regras normais, não será de estranhar que a observação da realidade não a fascine, mas sim as palavras ricas e densas que sugerem novos mundos. Bem-vindos a um universo arquitetónico labiríntico em papel. Convidamo-lo a aventurar-se.

A arquitetura é intrínseca aos seus desenhos.
Sim. É capaz de ser a linha orientadora e a base de tudo o que faço. Embora, de alguma maneira, tenha fugido da arquitetura verdadeira no sentido da construção; dedico-me, agora, a edificações imaginárias. Situo o meu trabalho na arquitetura de papel. Aliás, a genealogia é mesmo paper architecture. Há muitos profissionais que, por uma razão ou outra, talvez por condicionantes circunstanciais, se tenham dedicado exclusivamente ao desenho e não à construção. No meu caso, foi por opção. Gosto muito deste meu mundo.
Nas suas obras, as cidades flutuam, são etéreas. Parece querer despovoar a Terra do excesso de construção já erguida.
Não sei se será por aí. Apenas nunca senti necessidade de construir fisicamente. Até porque há pessoas muito mais competentes a fazê-lo. O meu trabalho propõe — e questiona — isso mesmo. É muito legítima essa discussão, e aceito todas as opiniões. Será que a arquitetura desenhada no papel é tão válida quanto a real? Até podemos ler as coisas das duas maneiras. A história da arquitetura não estaria completa sem os desenhos feitos por nomes fundamentais, mas, por outro lado, é também suposto a arquitetura ser construída. Isto também está tudo, obviamente, ligado à arte. É uma expressão artística que tem como pano de fundo a minha formação académica.

Os seus mundos imaginários vêm de onde?
É curioso. Nem sei responder. Não consumo muita animação, nem sequer muito desenho ou ilustração. As minhas referências são maioritariamente literárias ou musicais, mais relacionadas com a palavra e não necessariamente com a imagem.
Parece um jogo…
É! Porque as imagens não me evocam mais imagens. Por outro lado, as palavras, quando são ricas e densas e sugerem outras realidades, dão origem a estes novos mundos. É um pensamento quase mágico, de desejar qualquer coisa que não existe e de o propor. A observação da realidade não me traz fascinação, embora, naturalmente, seja inevitável também fazê-lo.
No seu imaginário, abundam castelos andantes. Transporta-nos para o universo do Miyazaki…
Sim [risos]. Poucos acreditarão, mas é a pura verdade, nunca tinha visto o filme O Castelo Andante (2004) até ter sido convidada a expor, naquele que foi o meu mais recente projeto, no Museu do Oriente, em Lisboa. Tinha previsto para a exposição No Plan for Japan (2021-2022) regressar ao Japão, mas meteu-se a pandemia, as fronteiras fecharam, e, a três semanas de partir, vi a viagem cancelada. Por conseguinte, para que a mostra fosse possível, a única opção era estudar muito sobre o universo japonês. E foi nessa ocasião que comecei a ver o filme, mas confesso que ainda não acabei.

Os seus objetos gráficos estão impregnados de orientalidade, com uma malha intricada e labiríntica.
São já muitas as jornadas por Macau, uma das quais a propósito de uma residência artística. Conheço muito bem as diferentes malhas e artérias locais da região, e tudo me fascina naquela realidade urbana caótica. Os meus trabalhos estão muito relacionados com a densidade construída e demográfica, e Macau reflete isso mesmo: o confronto com a realidade. Curiosamente, já há muito que desenhava assim, sem ter consciência disso, mas foi lá que encontrei definitivamente a minha linha, que me levou a outras viagens.
E essa densidade em oposição aos seus desenhos, onde tudo levita, é propositada?
Faz sentido a pergunta. Há muita leveza no meu trabalho. É um desejo consciente e, simultaneamente, inconsciente. Se pensar, efetivamente, em ideias que me orientam, é evidente que encontro muita inspiração nos livros As Cidades Invisíveis e Seis Propostas para o Próximo Milénio, de Italo Calvino. Neste último, um dos grandes valores que o autor defende para o novo milénio é precisamente a leveza. A minha memória não é excecional, sobretudo a fotográfica. Reconheço isso. As imagens que tenho retidas da minha vida, das paisagens urbanas, acabam por ser levitantes. Nunca se sabe bem onde as minhas realidades desenhadas começam ou acabam; a cada observação há sempre um elemento novo. Associo o meu trabalho à leveza e à minha memória.
Leia a entrevista completa no número 81 da Espiral do Tempo (inverno 2022).