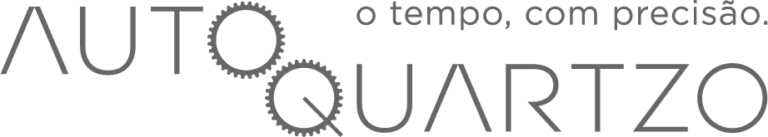Edição impressa | Os pretextos para o encontro com The Legendary Tigerman foram o lançamento recente do seu álbum Misfit e a associação a uma marca de relógios suíços de nicho – a Romain Vollet. Sendo ele um sujeito errante, acabámos, nesta conversa, por também errar por países, por locais, por momentos e pelas memórias de um artista de corpo inteiro. The Legendary Tigerman é um rocker sui generis e com uma aguda noção do tempo – do seu, do tempo do outro e do tempo que está aquém e além de si, do passado em que se revê ao futuro onde fixa o olhar.
—
Fotografia: © Paulo Pires / Espiral do Tempo
Entrevista originalmente publicada no número 62 da Espiral do Tempo, mas aqui complementada por mais fotos exclusivas.
Quais são as primeiras músicas de que tem memória?
Há uns discos da minha mãe, como o John Livingston Seagull, uns do Demis Roussos, do meu pai, e depois tinha as minhas irmãs, um bocadinho mais velhas que eu, adolescentes, que ouviam…
Cat Stevens e coisas assim.
(risos) Não, nada disso. Ouviam Bob Dylan, Neil Young, os Doors. Muito do gosto pela música norte-americana, do blues e do rock and roll, que me foi ‘entrando’ terá sido por aí, creio eu.
Justamente, o seu último álbum, Misfit, tem raízes nos sixties por causa do som ‘good old rock n’roll’, mas não só. O título reporta para o filme do John Huston, e as designações que acompanham o trabalho, como ‘acid visual album’ ou ‘road trip’, ou o uso da Super-8, são coisas que fazem parte desse imaginário dos sixties.
Li algures que a música que mais nos marca é a que ouvimos até aos 13 anos. Isto podem ser más notícias em muitos casos, mas, no meu caso, não foi. E também não foi no caso do uso da Super-8 — que tem que ver com os filmes de família que via em miúdo e que eram sempre o momento alto de qualquer festa de família. Eram os filmes de Moçambique, onde eu nasci, mas de que não me lembrava. Agora, tento que, o que eu faço, tenha tanto de olhar para a frente como para trás. Acho que se aprende a olhar para trás, mas não se deve copiar o passado. Deve-se aprender com o passado para se fazerem coisas no presente e se projetarem coisas para o futuro.

O que não dariam as suas irmãs para, na adolescência, poderem ver os filmes do Morrison ou um concerto dos Doors com a facilidade com que os vemos hoje.
Claro. Nós só imaginavamos, o que também é muito interessante. A fantasia é sempre muito mais maravilhosa. Acho que criar lendas, como a do Jim Morrison, com o carisma que ele tinha e com todo o mistério que há à volta dele, é muito mais difícil hoje, porque há muito escrutínio que não tem que ver com o palco. Que saudade do tempo em que tu vias o artista no palco, ou num videoclip, no máximo, e não tinhas contacto com o seu quotidiano.
Sei que gosta especialmente de desertos. O que o atrai neles?
A oportunidade de estar afastado do mundo, a liberdade de estares fora do mundo, do mundo digital. O deserto é dos últimos sítios onde não tens rede, o que permite focares-te em ti e no espaço que te envolve. E depois são sítios ainda selvagens. Em Portugal, não corremos o risco de ser atacados por um lobo ou uma coisa do género, é uma possibilidade remota. Em Death Valley, há perigo. E depois, para mim, que vivo muito em cidades e estou habituado a olhar para cidades que, sendo diferentes, às vezes não parecem assim tão diferentes, é importante esse retorno à natureza selvagem. O deserto é bom para renovar o olhar e os conceitos.
Uma particularidade do deserto do Novo México é o peiote, a mescalina e tal…(risos) Sim, é um facto. Faz parte da viagem…
É uma pessoa errante e, julgo, tem uma natureza errante. Erra muito por França e pelos EUA, por exemplo. É sensível às modificações políticas e sociais que esses países têm atravessado?
Sim, e notam-se de muitas maneiras. Paris, que é uma cidade onde eu toco há muito tempo, acho que se tornou uma cidade mais triste, mais fria, mais reativa do que era há 15 ou 20 anos. Acho que, infelizmente, é outro sinal dos tempos. Mas tens o outro lado, tens a grande coragem dos parisienses, que continuam a sua luta para estar numa esplanada, e com isto dizer que estar lá a beber um café e a olhar para as pessoas a passar na rua é um estilo de vida, é o seu estilo de vida. É uma afirmação que pode ser feita com risco de vida, mas não abdicam desse direito. Uma coisa tão simples quanto estar a beber um café numa esplanada ou ir a uma sala como o Bataclan é um statement. Acho que Paris foi cruelmente marcada, e vejo esperança na forma como os parisienses reagiram, mas penso que levará décadas até que as pessoas ouçam uma coisa a explodir e não se assustem. Estive na América antes do Trump e depois do Trump. Todos os artistas, hoje, assim que sabem que somos estrangeiros, a primeira ou a segunda frase que dizem é a pedir desculpa pelo Trump, superenvergonhados. Na América de beira da estrada, parece haver uma mudança subtil, mas que é relevante, penso. Parece que o Trump, de certo modo, legitimou a falta de educação, os comportamentos absurdos, a ignorância. Quando vês uma bandeira à janela de apoio ao Trump, vês intransigência, e em todo o sul isso é muito evidente. Quando o Obama era presidente, também havia disso, mas creio que era uma manifestação de esperança.

Normalmente, os artistas não gostam de distinguir nenhuma das suas obras, mas o Paulo não parece ter problemas em assumir o Femina como o seu trabalho mais marcante.
O universo feminino é muito inspirador, e só o facto de partilhar o estúdio com algumas das artistas do álbum, e tentarmos fazer algo em conjunto, proporciona logo um desenvolvimento completamente diferente de trabalhar isolado. Senti que havia uma energia muito forte e muito diferente de tudo o que eu tinha feito antes, e quis explorar isso. A dimensão do projeto também me fez viajar para procurar estas pessoas. Esta coisa da viagem, de compreender o outro, de me relacionar com o outro, está muito presente na minha música, e foi no Femina que eu percebi o quão importante isso era para mim.
Como é que um perfecionista, que se assume como control freak, britânico nos horários, atento ao último detalhe, que gosta de controlar todos os pormenores que envolvem a sua atividade profissional, gosta de algo tão pouco controlável como as mulheres?
(risos) Eu adoro a natureza humana e adoro o erro – não estou a dizer que o erro tenha a ver especificamente com as mulheres – adoro esse lado incompreensível, esse mistério que elas são. Os homens são mais pragmáticos a falar, a comunicar, rapidamente estabelecemos e reconhecemos normas de comportamento. Isso são coisas que caem por terra em relação às mulheres, e isso é fascinante.
E de onde lhe vem a noção de perfecionismo? É inato? Foi trabalhado? Foi aculturado?
Eu sou um perfecionista estranho, porque sou tolerante ao erro. O erro é uma parte fundamental da arte e há coisas que podem estar erradas num determinado tempo e revelarem-se certas num tempo posterior. O erro não pode é vir da falta de trabalho, tem de vir do sítio oposto, do resultado de muito trabalho. E tem de vir do risco e do lado incontrolável das coisas. O erro é, muitas vezes, a faísca que falta a uma canção. Não me movem as coisas demasiado bem-feitas e compartimentadas, sem espaço para a possibilidade de o erro surgir – que, repito, faz profundamente parte da natureza humana e por isso tem de estar presente na arte. O lado instintivo e reativo é essencial na arte. Não sei se há espaço para o erro na música clássica, por exemplo, e eu não deixo de me comover com ela, mas a forma como eu me expresso aceita a possibilidade de erro.
Quando é que decidiu passar de ilha a arquipélago, deixar de ser ‘one man band’ para tocar em conjunto?
Acho que foi a necessidade. Começou com o Femina, claramente. Senti que precisava de juntar o meu universo ao universo de outras pessoas e ver o que acontecia. Em determinada altura, estava farto de não partilhar as vitórias e derrotas com alguém, e em dar aquele abraço a alguém que esteve a fazer a mesma coisa que eu.

O que é artisticamente natural em si é o desenho. No entanto, faz música, faz vídeos, está em vias de realizar um filme. Essa é uma pluridisciplinaridade que os artistas plásticos de hoje cada vez mais têm. Pode vir a ser esse o seu trajeto? Vê-se a expor numa galeria de arte um trabalho seu multidisciplinar?
Um dos momentos que me fez sentir superorgulhoso foi com o Julião Sarmento, em Serralves. Fiz a música para uma peça dele, o Cometa, que era uma performance muito bonita. Com o João Louro e o Carrilho da Graça, fiz outro projeto, o Eletricidade Estática. Acho que o meu trajeto sempre teve que ver com o cruzar de outras linguagens, cruzar-me com outros artistas. No fundo, acho que sempre me cruzei com todas as artes, sempre quis aprender coisas que me ajudassem a compor a minha arte de forma diferente e estou sempre ansioso por aprender e desenvolver novas colaborações.
Mas nunca incorporou o seu desenho ou a sua pintura nesses trabalhos, quando essas são as expressões artísticas mais naturais em si.
O desenho e a pintura eram, até à adolescência — antes de a música me roubar de tudo isto de forma abrupta — as únicas coisas que eu fazia, 15 horas seguidas. Podia estar 15 horas a pintar e não dava por isso. E, até aos 17 anos, 18 anos, pensei que esse fosse o meu caminho. Estudei e fiz várias exposições individuais e coletivas, mas, de repente, fiquei mais interessado numa forma de expressão que não essa. Hoje em dia, pintar e desenhar são as únicas coisas que eu faço nas férias. Pus essas formas de expressão num outro sítio e não sei se elas vão sair do lugar onde estão. Não sei se vou conseguir olhar para um desenho meu e achar que aquilo é arte. Neste momento, não acho. Acho que só sou eu a relaxar.
Tem mais pudor em expor os seus desenhos e a sua pintura ou a sua música?
(risos) Claramente, os desenhos…
Não lhe pergunto porquê, esteja descansado. Como é que alguém que se diz desenquadrado do mundo se relaciona com o tempo?
Isso talvez explique porque é que eu não desenho nem pinto, porque eu sou o tipo mais pontual do mundo*. Tenho uma relação com o tempo que me deixa em maus lençóis por viver em Portugal, onde as pessoas não são pontuais. Até vou mais longe, acho que comecei como ‘one man band’ por estar farto de atrasos para ensaios — porque os músicos em geral, exceto os que trabalham comigo, não são pontuais, e, para mim, isso é uma lei marcial. Em trabalho, sou um bocadinho tirânico e, quanto ao tempo, sou superexigente. Em tourné, o tempo é uma coisa muito importante, mesmo o tempo que tens para ti — e que, por vezes, é apenas o tempo em que estás no quarto de hotel. De resto, estás sempre rodeado de pessoas, de ruído, de imagens em movimento. Eu tenho muito respeito pelo meu tempo e também sou respeitoso do tempo das outras pessoas. Exijo uma coisa que respeito nos outros. Tenho um grande respeito pelas coisas que eu tenho de fazer e acho que isso me marca.

Incomoda-o estar perto dos 50 anos? Ainda não se sente ‘too old to be a rock’n roll star’?
(risos) Por acaso sinto-me muito bem com os meus 47 anos. Antes de fazer 40 anos, tomei uma decisão fundamental na minha vida. Antes fumava cerca de dois maços de tabaco por dia – e decidi que ia entrar nos 40 sem fumar e que, a partir dessa altura, ia começar a fazer exercício físico e ia ter cuidado comigo — que foi coisa que, até aos 39 anos, não tive nenhum. As minhas contas eram: se viver até aos 80 anos, tive até aos 39 anos a aproveitar a vida de todas as maneiras como ela deve ser aproveitada; agora ainda tenho 40 anos para fazer coisas com um foco muito mais rigoroso do que tive até aqui. Achei que a coisa podia correr bem. Até agora, está a funcionar bem e acho que nesta década me estou a sentir muito melhor do que me senti na anterior, o que me dá esperança. (risos)
E com os relógios, que relação tem com estes controladores do tempo?
Este é o primeiro relógio ‘à séria’ que tenho. Já usava, e, na capa do Femina, até apareço com um deles. Mas, desde que tenho este relógio, comecei a apreciar o lado mecânico e o seu ruído. Quando olhei para o relógio, comecei por virá-lo ao contrário, descobri que dava para ver através do fundo e comecei a tentar perceber — sem grande sucesso, confesso — o que estava aqui a acontecer. O som que faz é uma coisa maravilhosa. Essa foi a diferença imediata que eu senti entre este relógio e os outros que tenho tido, não mecânicos. Fiz poucas associações a marcas, porque as coisas precisam de fazer verdadeiramente sentido para mim, mas quando recebi a proposta para ser amigo desta marca suíça, a Romain Vollet, fiquei curioso, porque têm relógios com referências interessantes para mim — como a caveira mexicana ou a frase ‘forever young’, do Dylan, inscrita atrás. Mesmo assim, antes de decidir alguma coisa, disse-lhes ‘ok, os relógios parecem-me bonitos, mas vou ter de vê-los, de mexer neles, de os ter no pulso, ver como é que me relaciono com eles’. Sugeri três possibilidades, enviaram-me duas, e este foi claramente amor à primeira vista. Há coisas difíceis de explicar. Eu não estava assim tão crente de que fosse gostar. Vamos lá ver como é que corre, pensei, e o que é facto é que gostei. Acho que no interior dos relógios está o espírito que eu acho que tenho na música, que é independente, mas que batalha e nada no mesmo mar em que navegam os tubarões. Eu sou uma pessoa de objetos, gosto de objetos, da sua história, e coleciono máquinas fotográficas, câmara Super-8, pedais, guitarras, amplificadores, uma série de coisas. Relaciono-me muito com o toque e com as formas, e há um rigor associado à construção de relógios que me parece muito semelhante ao trabalho de um bom luthier. Esse lado artesanal, que existe num bom luthier, estou a descobrir que também existe num relógio.


Sendo uma pessoa cosmopolita que anda pelo mundo, o que o traz de volta a Lisboa?
Estive dividido entre dois amores muito grandes, Lisboa e Paris, e, no momento em que mudei para Lisboa, estava dividido ‘fifty-fifty’. Foi Lisboa, mas podia ter sido Paris. Quando se viaja muito, há a necessidade do reconhecimento de alguma zona segura e protetora, que é mais do que a casa, porque não é só a ideia do lar ou da família, é de ninho e é de pátria, um porto de abrigo. Lisboa, neste momento, é o sítio onde me vejo daqui a 20 anos. Vou passar muito tempo em muitos sítios diferentes, mas, se pensar num sítio com o qual me identifico totalmente e a vários níveis, então é Lisboa. Culturalmente, somos uma cidade única em Portugal e muito peculiar na Europa. Tem muito que ver com isto de sermos uma cidade que está entre a Europa, África, a América do Norte e a do Sul, e somos influenciados por isto tudo.
O Kalaf dizia-me a mesma coisa.
Lisboa é, em Portugal, a única cidade onde temos esta mestiçagem, e começamos a vivê-la de uma maneira saudável, inteligente e bonita. E há uma oferta cultural incrível, é uma cidade linda, pequena, mas onde estás sempre a descobrir coisas. Gosto de viver cá e é um sítio em que ainda tenho muitas coisas para fazer. É uma cidade muito especial. Podendo viver em qualquer cidade do mundo, pondo de lado a questão financeira, morava um ano em LA, dois anos em Paris, se calhar três em Tóquio, mas, se eu tivesse de escolher uma cidade para viver a vida toda, escolhia Lisboa.
*connosco, foi de uma pontualidade suíça!
—