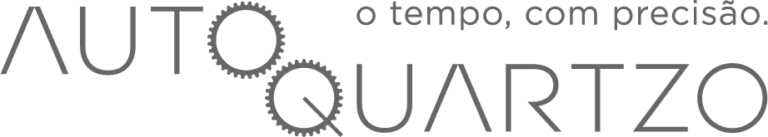Pela prosa de Gonçalo Cadilhe, como nesta entrevista, vai-se aquém e além-mar em África, vai-se ao Oriente na senda dos Descobrimentos e dos descobridores, repousa-se em Itália e segue-se pela Ásia Central, sobe-se ao topo do mundo, serenamo-nos nas ilhas do Índico até atingirmos os antípodas de Portugal. E volta-se, sempre, à Figueira da Foz, onde o fomos encontrar acabado de regressar de mais uma viagem, ainda a recuperar as forças para voltar a surfar o mar que nenhuma viagem substitui.
—
Pediu um sumo de laranja. Não é o gin a bebida do viajante?
Talvez fosse no século XIX, quando aquela ideia romântica que temos da viagem significava exploração e ir ao encontro do desconhecido. O gin tem uma ligação muito forte à defesa da malária, por causa do quinino que existe na água tónica, mas a bebida alcoólica do viajante é a cerveja. Quando não há proibição de consumo de álcool, a bebida mais comum e mais saudável é a cerveja. É fácil de produzir, é engarrafada e existe em quase todos os países do mundo. Num gin tónico, se não estamos com atenção, metem-nos um cubo de gelo e lá vamos dar cabo do intestino…
“Isto é como os círculos concêntricos na água. No centro, estão os lugares que a generalidade das pessoas mais desejam ver na vida: Machu Picchu,Taj Mahal, a baía de Ha Long no Vietname, aqueles sítios que estão em todas as referências. Esses lugares são o centro, e não devemos ser snobs ao ponto de dizer «está lá muita gente, não vou».”
Que viagem foi esta de que acabou de regressar em que, numa semana, estava no Estreio de Magalhães e, na semana seguinte, no Quénia?
De facto, é uma viagem que só nos dias de hoje seria possível. A viagem é baseada no meu livro Nos Passos de Magalhães, depreende da minha colaboração com a agência Pinto Lopes Viagens e percorre lugares da vida de Magalhães — mais que a própria circum-navegação. Quando se assinalaram os seus 500 anos, o tema voltou ao de cima. Em vez dos sete meses que me levou a viagem para escrever o livro, durante os quais também foi feita a reportagem para a RTP 2, e visto que a duração máxima aceitável por causa da disponibilidade das pessoas era de um mês, tivemos de ser pragmáticos e reduzir a viagem ao essencial.
O Estreito de Magalhães, evidentemente, e o Quénia foram locais essenciais na sua vida. O Quénia, por causa da primeira ida de Magalhães para o Oriente, na primeira armada portuguesa que vai ‘conquistar’ a Índia. Ele é homem de armas ao serviço de Francisco de Almeida, primeiro vice-rei da Índia, e serve, mais tarde, Afonso de Albuquerque. Foi a partir destes retalhos que construí o itinerário que foi agora concluído.

Sendo um profissional das viagens, qual é o seu conceito de viagem? Como definiria viagem, ou o que é para si uma viagem?
Serei mais um profissional da escrita de viagens. Na minha ótica pessoal, tem de haver um estímulo, uma nova ideia, uma ligação à parte criativa do meu trabalho, para eu fazer uma viagem. Por exemplo, já trabalhei em vários projetos ligados à época dos Descobrimentos, nomeadamente o Magalhães, a biografia do Fernão Mendes Pinto ou sobre a chegada dos portugueses às ilhas das especiarias, que é a razão fundamental para a expansão. Isto para dizer que, nestes projetos, tive sempre de voltar a Goa, que era a capital de Portugal no Oriente e local por onde tudo passava. Voltei a Goa nesta viagem. Ir a Goa é uma viagem? Para mim, já não é. No entanto, quem é que pode negar que ir a Goa seja uma viagem? Há dois ou três anos, lembrei-me de olhar para o S. António e descobri que estava ali um projeto brutal de viagem. Fui ao rochedo de Gibraltar e atravessei para Ceuta, seguindo os passos do santo. Só o facto de ir lá, algo que eu ainda não tinha feito, a pretexto da viagem de um pequenino português que ficaria para a história no século XIII, muito anterior aos Descobrimentos, encheu-me de uma energia como se eu estivesse a viajar pela primeira vez. Uma viagem, para mim, é quando há uma epifania que, de repente, me faz reparar em coisas que estavam à minha frente, mas que só nessa viagem se revelam, puxando por mim em todos os sentidos. Começou pela pesquisa, porque tive que estudar o século XIII português — uma época que não se associa ao S. António, no início da nacionalidade. Tudo isso pôs-me a viajar antes de eu, efetivamente, sair em viagem, e entrevistar académicos e pesquisar puxou mais por mim do que ir a Goa pela quinta ou sexta vez.
Justamente, o conceito de viagem muda com o tempo, o global e o de cada um de nós.
Sempre se viajou, mas só quando se começou a fazê-lo por lazer, no século XIX, é que viajar fica ligado ao conceito do turista e não ao do viajante. É quando aparece um movimento de massas, uma moda entre as elites culturais do norte da Europa, que se chama o grand tour. Os ingleses e os nórdicos acham, e bem, que os seus estudos só estão terminados depois de fazerem uma viagem de, pelo menos, dois anos pelas raízes da civilização europeia — Grécia e Itália. Eles vão numa altura em que não há hotéis, não se falam várias línguas, não há cartões de crédito, e vão por ali fora em peripécias múltiplas. O nome que esses grandes viajantes davam a si próprios era de turistas (aqueles que fazem o tour) e, hoje, somos todos turistas, filhos desse movimento do grand tour. Os viajantes que sempre existiram eram os peregrinos, os embaixadores, os soldados, os missionários, os comerciantes, as princesas quando iam casar. A diferença entre uns e outros é esta circunstância fantástica de poder viajar em lazer.

Hoje, já não se vai um mês de viagem sem estar conetado — quando, há um par de décadas, se ‘desaparecia’ durante um mês ou dois e se mandava, quando muito, uns postalitos — e a maioria dos quais só chegavam cá depois de nós regressarmos. Sente saudades dessa forma de viajar, totalmente desconetado, imerso na viagem?
Na minha perspetiva, que é de trabalho, as coisas estão cada vez melhores. Quando fiz a volta ao mundo sem aviões entre 2002 e 2004, durante 19 meses, todas as semanas tinha de enviar para o Expresso a crónica correspondente e tinha o pesadelo constante de não saber onde é que voltava a ter Internet. Nesta viagem da qual acabei de regressar, todos os dias enviava, por WhatsApp, um diário de bordo, um pequeno filme de 40 segundos com várias imagens — e, passada uma hora, estava a ser postado no site da agência. Não sou um saudosista. Estar desconetado é uma decisão pessoal. Se eu quiser estar desconetado estou, mas, profissionalmente, não me faz sentido. Isto é como os círculos concêntricos na água. No centro, estão os lugares que a generalidade das pessoas mais desejam ver na vida: Machu Picchu,Taj Mahal, a baía de Ha Long no Vietname, aqueles sítios que estão em todas as referências. Esses lugares são o centro, e não devemos ser snobs ao ponto de dizer «está lá muita gente, não vou». Mas à medida que nos vamos afastando desse centro, podemos encontrar lugares menos impressionantes, mas que também têm menos gente. Estive há pouco num sítio onde nunca tinha estado, o mosteiro de Tash Rabat, no Quirguistão. Não estava lá ninguém, só eu e as pessoas que foram comigo. Passado pouco tempo, do meio do nada, lá apareceu um nómada das estepes com umas coisinhas para vender (risos). Mas a sensação que nos deu é que somos pouquíssimos os que vamos lá. Depois, há os interesses próprios e os interesses comuns. Quando começamos a fazer viagens ligadas aos nossos interesses próprios, é muito mais fácil chegar a lugares onde somos os únicos turistas. Os surfistas, quando estão interessados em ir para certas ondas, conseguem chegar a lugares isolados na Indonésia ou na América do Sul que têm ondas maravilhosas, onde encontram outros surfistas, mas não turistas, não o turismo de massas. Um exemplo: há uns tempos viajei com um italiano que conhecia e que estava a dar a volta ao mundo baseado numa rede de contactos que ele tinha de pessoas que falam Esperanto. Ou seja, ele falava Esperanto, viu na net onde é que havia pessoas que também o falavam e deu uma volta ao mundo só para ir ter com essas pessoas. O interesse dele era o convívio com essas pessoas, praticar a língua e saber como viviam, não era aquilo a que vulgarmente chamamos «fazer turismo».

Qual o papel da História, nomeadamente a de Portugal, nas suas viagens, na escolha dos destinos ou dos locais de passagem?
Aconteceu. Não tem de haver uma ligação à história de Portugal para eu fazer uma viagem. Várias delas não estavam ligadas a coisa nenhuma, mas, à medida que envelheço, preciso desses desafios intelectuais que deem uma densidade cultural à viagem — o que não quer dizer que sejam momentos menos aventurosos por isso. Fui à Argélia com um tema cultural e histórico, a vida de S. António, que por lá passou. Ora, a Argélia é um sítio onde uma pessoa não se sente especialmente segura. A forma como somos olhados não transmite segurança pelo que acabei por ter uma viagem que, na minha perceção, foi, enfim, perigosa.
Atravessou África de sul a norte para escrever o seu África Acima. Para quando ir de Angola à contracosta, no rasto de Capelo e Ivens?
Por acaso, porque não? É um período da história de Portugal que não abordei e é uma zona de África que continua, apesar de tudo, a criar muita inquietude no viajante. Não diria que não, mas outras coisas têm surgido e não será essa a próxima.
Mesmo para o mais experimentado viajante, África é sempre uma coisa à parte?
É. Eu acredito muito na pré-genética, uma memória induzida culturalmente que tem que ver com o facto de nós termos nascido em África. Sempre que vou a África — acabei de estar no Quénia e vou muito ao Botswana —, fico com a sensação que, de alguma forma, reconhecemos que aquele é o sítio de onde viemos. Parece qualquer coisa de metafísico, e acho que não sou o único. Em inglês, existe uma expressão que se pode traduzir por «Mal de África» ou «Doença de África», que é a melancolia que quem lá esteve sente quando se vem embora, e que nunca mais consegue ultrapassar.

Onde se sente mais confortável, na Ásia, América do Norte ou do Sul, África, ou Europa?
Depende do que é confortável. Por exemplo, onde eu me sentiria mais confortável e, ao mesmo tempo, com a noção de choque cultural, diria que é na América Central e do Sul, porque falo a língua. Posso entrar em contacto com povos diferentes, de uma miscigenação e mentalidade muito diferentes da nossa — porque falo a língua —, mas não me sinto confortável, porque são sociedades onde há muita miséria e, por isso, os povos são extremamente violentos e a criminalidade é fácil. Estarei mais confortável na Indonésia, onde não falo a língua. Lá, é tudo muito homogéneo, há um ou outro monumento, ao fim de dois ou três dias já não há nada que nos surpreenda, não é um destino muito trepidante, mas as pessoas são muito gentis e há uma serenidade grande na atmosfera. Depois, há essa coisa incrível que é Itália. Por mim, dividia-se o mundo em duas metades, sendo uma delas Itália. É um sítio onde me sinto muito bem e que está de acordo com os meus interesses culturais. É um desafio contínuo, há sempre coisas que nunca vimos, autores de quem nunca ouvimos falar, sabores que não sabíamos existir.
Em que sentido viajar para espaços longínquos, ou não tão longínquos, é viajar dentro de nós.
Se quisermos, só se quisermos. Para longe ou para perto, a viagem exterior só tem algo de nós se formos predispostos a isso. Com a mudança de ambiente, da inclinação do Sol, por causa da latitude, da alimentação, dos cheiros e perfumes que andam na atmosfera, as flores que são diferentes, os ingredientes da cozinha, toda essa estimulação sensorial que está a acontecer quando viajamos pode ter um reflexo mais interior, espiritual mesmo. Mas é preciso que nós deixemos ou tenhamos uma alma predisposta para isso. Se estivermos interessados que isso aconteça, se nos predispusermos para isso, é a mais intensa das viagens, é aquela em que vêm ao de cima sensações que aqui não conseguimos ter. E as particularidades de cá podem provocar coisas semelhantes aos que vêm de fora…

Diria que, mais que a bagagem que se leva para uma viagem, vale a bagagem cultural e emocional que se tem?
Sim, diria que sim.
É isso que também gosta de oferecer nos seus livros e nas suas crónicas?
Para mim, definitivamente, o que me move quando escrevo é partilhar, e partilhar não é uma descrição factual que se encontra em qualquer enciclopédia ou no Google. É descrever o que está lá e o efeito que essas coisas tiveram em mim. É isso que eu trabalho muito e que eu acho que deve ser analisado e descrito. Mas há dois níveis, um nível mais imediato dos lugares que estou a visitar e que merecem a atenção do leitor — «a volta ao mundo sem aviões, como é que ele fez?» — e, depois, por baixo dessa observação mais imediata que agarra mais o primeiro leitor, começa-se a descobrir outros patamares de introspeção, de análise, de confronto, que faz aquilo que eu acho que é a parte mais rica dos meus livros — e o que os leitores agradecem mais.
Alguma vez teve uma sensação de déjà-vu nalgum lugar?
Ui… assim de repente. Deixe-me pensar. De uma forma poética, posso-lhe dizer que, quando cheguei à Nova Zelândia, senti que, efetivamente, estava nos antípodas de Portugal. Os neozelandeses são muito diferentes, e ainda bem para eles, dos portugueses. Para melhor. A Nova Zelândia transmitiu-me, não um déjà-vu, mas uma visão daquilo que Portugal podia ter sido.
“Para longe ou para perto, a viagem exterior só tem algo de nós se formos predispostos a isso. Com a mudança de ambiente, da inclinação do Sol, por causa da latitude, da alimentação, dos cheiros e perfumes que andam na atmosfera, as flores que são diferentes, os ingredientes da cozinha, toda essa estimulação sensorial que está a acontecer quando viajamos pode ter um reflexo mais interior, espiritual mesmo.”
Sente certamente que a velocidade com que o tempo passa não é a mesma em todo o lado. Sente-se confortável nos diversos tempos que o mundo tem?
O meu ponto de partida é o tempo dos portugueses que se encontra a meio caminho entre o tempo dos nórdicos e o chamado rubber time, o tempo elástico, flexível dos trópicos. Não é por acaso que temos um clima temperado e que somos uma cultura também ela temperada. Nas questões culturais do tempo e em tudo o resto, tenho de ter a consciência, quando vou para uma cultura diferente da minha, de que não devo impor as minhas certezas culturais, os meus valores. Viajar é, também, perceber que tudo é relativo e que aquilo que em Portugal é um valor absoluto, não o é noutras paragens. Uma das coisas que me motivou ou facilitou que eu me tornasse num viajante foi perceber a relatividade dos conceitos. E, depois, mesmo que as coisas me estejam a irritar e a correr de uma forma que não me agrada ou que eu não consigo controlar, penso sempre que sou um privilegiado por estar ali, ao contrário deles que, se calhar, nunca poderão vir ao meu lado do mundo — porque não têm dinheiro, não têm vistos, essas coisas.

Viagens realmente ‘mais além’, ou seja, para fora da Terra, seduzem-no?
Não.
E a Suíça, de onde provêm as belas máquinas de que tanto falamos? Nunca vi nada escrito por si sobre a Suíça.
A Suíça é para velhos (risos). Tenho essa ideia. O Chaplin foi reformar-se para lá e é para onde vão muitos milionários quando se reformam. A Suíça tem ali tão perto a Itália, a Alemanha, a França, países tão interessantes. As paisagens suíças, que são muito elogiadas, são um mito anterior ao tempo das viagens globais, quando os europeus não tinham possibilidade de ir para os Himalaias. Não impressionam quem viajou pelo Nepal ou pela Nova Zelândia. E, depois, eu sou um homem de mar, a referência é sempre a onda de surf, a praia, e a Suíça, nesse aspeto, também é pouco atraente para mim.
—