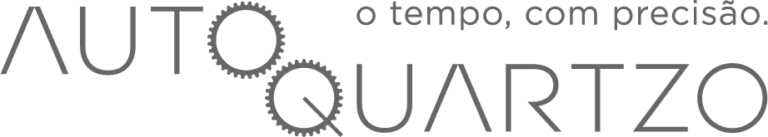Já começou a 144.ª edição do Open dos Estados Unidos. Os melhores tenistas do mundo estão em Nova Iorque para competir no derradeiro dos quatro torneios do Grand Slam da presente temporada, sempre sob o signo da Rolex — que é official timekeeper.
O Open dos Estados Unidos é o segundo mais antigo torneio do Grand Slam — começou a realizar-se em 1881, quatro anos depois da primeira edição de Wimbledon. É também o segundo mais antigo evento desportivo do continente americano, logo após o Kentucky Derby. E, cronologicamente, é o último torneio dos quatro torneios do Grand Slam que anualmente integram o circuito profissional de ténis. Foi também, em 2014, o último dos quatro a adotar a Rolex como relógio oficial… o completar de um ramalhete que atualmente inclui todos os principais eventos do circuito profissional.

A modalidade das raquetas é um dos pilares fundamentais na estratégia de patrocínio e comunicação da Rolex, numa ligação oficial que remonta a 1978. Ao longo de mais de quatro décadas e com maior incidência desde o início do presente milénio, a Rolex fortaleceu exponencialmente os laços com o ténis, as principais instituições que regem os destinos da modalidade e os principais torneios. Mas não só: — para além de muitos dos principais intérpretes da raqueta, desde velhas glórias como Rod Laver, Bjorn Borg e Chris Evert, campeões de um passado relativamente recente como Stefan Edberg, Jim Courier e Justine Hénin, campeões mais contemporâneos como Roger Federer, Dominic Thiem, Alexander Zverev, Caroline Garcia, e jovens campeões do presente e do futuro próximo como Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Iga Swiatek ou Coco Gauff.

Este ano, dois novos nomes foram adicionados: os do americano Ben Shelton (21 anos) e do brasileiro João Fonseca (18 anos). João Fonseca foi campeão júnior do US Open há um ano e tem tido uma rápida progressão no ranking nos últimos meses. Ben Shelton rubricou uma ascensão meteórica em 2013, com presença nos quartos-de-final do Open da Austrália e meias-finais no US Open; no 13.º posto da hierarquia mundial, é atualmente o segundo tenista dos Estados Unidos (logo atrás de Taylor Fritz, também embaixador Rolex) e esta semana tem impressionado pela potência de jogo e pujança física… sem esquecer uma escolha muito particular pelo relógio que tem utilizado fora dos courts: o GMT-Master II com coroa à esquerda.


«É difícil acreditar que me tornei parte da família Rolex logo no meu segundo ano enquanto profissional. Tenho de me beliscar só de saber que faço parte de um grupo de atletas incríveis. Sou amigo da Coco e tive a felicidade de encontrar o Roger algumas vezes — e quando penso na Rolex e no ténis, penso neles. A Rolex tem uma posição de excelência na nossa modalidade e tem sido um dos maiores apoiantes do ténis e dos maiores torneios. Sentir o apoio e tão icónica marca é mesmo cool».

A opção pelo relógio que tem usado justifica-se: «Tenho um GMT-Master II preto e verde, o único relógio da Rolex para canhotos. Sendo eu um jogador esquerdino, é o relógio perfeito para mim. É mesmo único. Sabe bem ter o meu relógio no pulso quando passo pelos relógios de parede ou pelo relógio que está no court. É ótimo ver a coroa da Rolex nos mais prestigiados eventos e saber que faço parte da família».

O filho do antigo tenista profissional Bryan Shelton optou inicialmente por se dedicar aos estudos (foi uma vedeta no circuito universitário) e só no final de 2022 se tornou profissional. Apresenta um estilo de jogo pouco habitual nos dias que correm, alicerçado num grande serviço e em constantes subidas à rede. Vai ser interessante vê-lo investir numa toada puramente atacante para contrariar o estilo mais habitual de fundo do court evidenciado pelos melhores tenistas da atualidade, incluindo embaixadores Rolex como Carlos Alcaraz e Jannik Sinner — que entre ambos ganharam os três anteriores títulos do Grand Slam da presente temporada e estão na linha da frente entre os favoritos à conquista do US Open.
Quatro pilares
Os quatro torneios do Grand Slam são muito diferentes entre si e todos são apelativos de maneiras distintas — e o sucesso em Nova Iorque passa por saber lidar com toda a envolvência da competição. Após a descontração do Open da Austrália (em Melbourne Park), do charme de Roland Garros (Paris) e da mística de Wimbledon (no All England Club dos arredores de Londres), o USTA Billie Jean King Tennis Center de Flushing Meadows acolhe o último dos quatro eventos do Grand Slam de 2024 no bairro novaiorquino de Queens com a mesma obsessão de sempre: proporcionar, à americana, espetáculo para além do próprio espetáculo desportivo. E é por isso que é tão frequente ver as maiores vedetas do show biz presentes para ver o torneio in loco.

E não são apenas a assistência recorde (média quinzenal perto de um milhão de espetadores) e o descomunal prize-money (75 milhões de dólares este ano) que estabelecem a grandeza do evento. Para a sua fama contribui também o facto de nenhuma outra prova do Grand Slam refletir tão fielmente a cidade onde se joga: tal como Nova Iorque, o Open dos Estados Unidos é exasperantemente caótico, divertidamente extrovertido, exageradamente comercial, simultaneamente iconoclasta e obcecado pelas personalidades, mas sobretudo cativante e polémico.

O grande evento novaiorquino costumava mesmo ser o torneio que todos adoravam odiar desde que em 1978 transitou de um seleto clube de Forest Hills para o complexo público de Flushing Meadows, embora tenha dado um enorme salto qualitativo a partir da remodelação global que estreou o novo court central (Arthur Ashe Stadium) em 1997 — o maior estádio de ténis permanente do mundo, tal como o prize-money é o maior e a afluência é a maior. Os americanos gostam de tudo em grande, como sempre tiveram uma afeção especial pela Rolex. À sua maneira, os americanos contribuíram muito para o estatuto global de que a Rolex goza hoje em dia.

No plano desportivo, a grande dificuldade do US Open prende-se com a gestão ideal de tudo o que gira à volta da competição — desde a calendarização de jogos que vai desde as 11 da manhã às 2 da madrugada até às múltiplas atrações/distrações proporcionadas por Manhattan, passando pelas idiossincrasias muito próprias de Flushing Meadows. É mesmo necessário que os jogadores apresentem um estado de espírito muito peculiar para evitar serem afetados negativamente por uma horda de espectadores que está constantemente a circular, a comer, a beber, a saltar e a transmitir ruidosamente as suas emoções — sem esquecer o barulho proporcionado pelo pássaro oficial do torneio: o Boeing 747, saído do vizinho aeroporto de La Guardia. Essa indescritível cacofonia alia-se a uma miríade de odores que impregna o quente ar húmido do verão em Nova Iorque.

O megaevento novaiorquino pode gabar-se pelo menos de ser mais democrático do que o Open da Austrália, Roland Garros ou Wimbledon: foi o primeiro a trocar o cenário elitista de um clube privado (o West Side Club, de Forest Hills, que não aceitava membros judeus e negros) por um parque público (Flushing Meadows, em 1978). Para mais, foi o primeiro torneio a atribuir prémios monetários iguais para ambos os sexos (medida depois imitada pelos restantes eventos do Grand Slam), a ter aceite a participação de uma jogadora transexual (Renée Richards, em 1977) e a admitir apanha-bolas mais velhos do que os jogadores!

Noutra vertente, o Open dos Estados Unidos foi também o primeiro torneio a adotar courts de cimento mais baratos e que também deram um assinalável contributo para a democratização da prova, já que funcionavam como equalizadores ao permitir a exaltação de todos os estilos de jogo, ao passo que Roland Garros estava subjugado aos especialistas de terra batida que atuam no fundo do court e Wimbledon permanecia sob a tirania dos adeptos do serviço-vólei. Para além de ter sido o primeiro a adotar sessões noturnas e sistema eletrónico de arbitragem.

A cortina subiu na passada segunda-feira e o espetáculo vai continuar até ao domingo da próxima semana. Com acompanhamento diário no Eurosport. Não há nada que se equipare às noites longas do US Open e, como dizia Frank Sinatra, «if you can make it there, you can make it anywhere». E, para coroar o sucesso, está lá a Rolex — afinal de contas, o lema da marca genebrina é a «crown for every achievement».